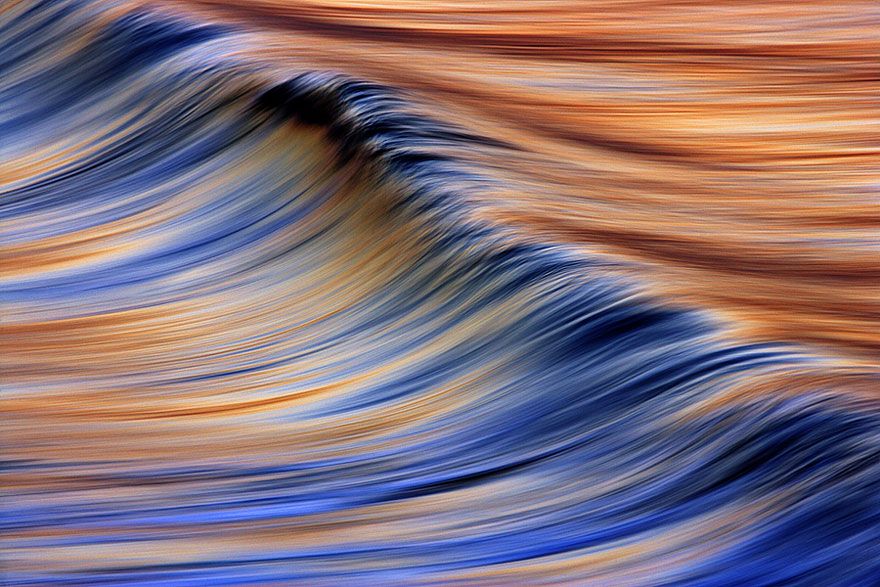Primeiramente, condenou-se a pomba
por amar uma paz entorpecente,
onde o leão perde a juba e a hiena, os dentes.
Depois, condenou-se no cordeiro
a perigosa dúvida que o anima –
o rio dos lobos corre sempre para cima.
Condenou-se a cigarra, finalmente,
pelo crime de cantar nas horas vagas
que a faina da formiga não tem paga.
Consolidada a ordem, festejou-se.
E o leão rugindo, a hiena rindo,
os trabalhos foram dados por bem findos.
José Paulo Paes
Liminar e crise antiga
O 8 de julho de 2018, dia em que um desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, decidiu que Lula, o ex-presidente trancafiado num xadrez da Polícia Federal em Curitiba, deveria ser imediatamente solto, evidenciou uma crise institucional que se arrasta há muitas décadas no País. Mudou o jeito como os protagonistas do enredo triste se colocaram em cena, mas a essência da tragédia foi a mesma. Naquele domingo, Rogério Favreto, o autor da sentença improvável, trabalhava em regime de plantão, e se manifestou por provocação de pessoas legitimadas, no exercício das prerrogativas que lhe cabem como magistrado de segundo grau de jurisdição.[1]
O que deveria ser fato corriqueiro, todavia, ganhou contornos fantásticos. Isso se explica pela dimensão política do despacho liminar dado por Favreto em resposta a um habeas corpus interposto por parlamentares federais. Lula não é preso comum. Ao menos no imaginário dos seus seguidores, deveria ser o presidente do País em 2019. Na outra ponta das preferências ideológicas, os que o condenaram emitem sinais de que não aceitam a hipótese de o ver em liberdade, mesmo que seja por algumas horas, apenas. A polêmica existe, mas não justifica a gritaria que se seguiu ao decreto de soltura, ou a inacreditável sucessão de ordens e contraordens que resultou no descumprimento de uma decisão judicial.[2]

O Judiciário no centro da crise: liminar de desembargador do TRF-4, em Porto Alegre,
que ordenou a soltura de Lula, preso numa cela da Polícia Federal em Curitiba, mobilizou
representantes da Lava Jato e abalou o cenário político nacional
O restabelecimento da ‘normalidade’
Favreto proferiu um despacho com os requisitos formais que a lei determina. Disse que ingressava no exame da matéria que lhe foi submetida porque estava diante de um “fato novo”: a confirmação de Lula como pré-candidato a presidente da República pelo seu partido, o PT. A partir daí, desenvolveu um raciocínio jurídico que concluiu pela concessão do habeas corpus. Esse entendimento poderia ser revertido por um recurso simples do Ministério Público Federal. O mais provável, diante das circunstâncias que envolveram o processo criminal desde a denúncia até a condenação definitiva do réu, seria a revogação do benefício, com a volta de Lula à cela a que foi conduzido no dia 7 de abril.
Por razões bastante estranhas, porém, o roteiro seguido foi outro. Ao invés de recorrer desde logo, o Ministério Público, instituição autorizada a fazer isso, ficou quieto, aparecendo quando o tumulto já estava instaurado. Quem abriu a polêmica sobre a questão foi o juiz da condenação em primeira instância, Sérgio Fernando Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Foi ele que, no gozo sagrado de férias, de um sítio qualquer do planeta, orientou os carcereiros de Lula a engavetar o comando do TRF-4. Diante da insistência de Favreto em manter a sua decisão, entraram em cena Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato em Porto Alegre, e o presidente da “corte”, Carlos Eduardo Thompson Flores. Os dois se valeram do regimento interno do Tribunal para “restabelecer a ordem”, com a cassação, antes que produzisse efeitos, do alvará que libertaria o condenado.
Que “normalidade” é essa, afinal, que as tais autoridades se empenharam tanto em restaurar? Os atos revogatórios da liminar deferida por Favreto nada dizem a respeito. A linguagem que utilizam conserva o tom hermético e rocambolesco dos juristas e suas teses deliberadamente complexas. De qualquer modo, o destrambelhado vaivém que colocou o Poder Judiciário no centro das atenções nacionais revela uma articulação bem definida para impedir que Lula saia do cárcere e, munido do capital político que acumulou desde que era sindicalista no ABC paulista, quebre a harmonia da corrida eleitoral que se avizinha. O “sistema”, por assim dizer, não admite mais – já admitiu, há bem pouco tempo – a convivência com o Lula messiânico e seus milhões de fiéis. E não são poucas as eminências de toga a abraçar essa ideia.
Advertência e acusação
Tão logo a liminar de Favreto se tornou pública, uma máquina poderosa iniciou a contraofensiva. “Especialistas” com assento em programas de televisão se prestaram a dizer que o desembargador do TRF-4, pejorativamente identificado como “plantonista”, “petista” ou “militante partidário”, entre outros predicados, não poderia ter despachado. Pelas redes sociais, um professor de jornalismo fez publicar o número do telefone do juiz, incitando os seus seguidores a um linchamento moral acompanhado de ameaças de vingança.[3] Em outro flanco, a cúpula judiciária se valeu da figura de Sérgio Moro, alçado à condição de herói dos cidadãos de bem, para retardar o atendimento à ordem de desencarcerar Lula. Feito isso, consumou-se o crime de desobediência. Restava dotá-lo de juridicidade. Aí, foi a vez dos representantes da maioria do Tribunal sediado em Porto Alegre, que cuidaram dos detalhes formais da cessação da “anomalia”. Serviço (mal) executado, os ânimos deveriam acalmar-se.
Não se acalmaram. Nos dias seguintes, Favreto foi advertido pela presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Laurita Vaz. Ao negar um habeas corpus também impetrado em favor de Lula, ela disparou: “Causa perplexidade e intolerável insegurança jurídica decisão tomada de inopino, por autoridade manifestamente incompetente, em situação precária de plantão judiciário, forçando a reabertura de discussão encerrada em instâncias superiores, por meio de insustentável premissa”.[4] Incentivada pela onda de censura e pela proliferação de juízos condenatórios que tomaram conta dos órgãos da Justiça, a procuradora geral da República, Raquel Dodge, arriscou uma representação no CNJ contra o juiz “rebelde”. Por analisar um pedido que lhe competia analisar – e simplesmente por isso –, Favreto foi acusado de prevaricação[5], um crime tipificado no Código Penal, e teve solicitada a sua aposentadoria compulsória. Segundo a procuradora, “as notórias e estreitas ligações afetivas, profissionais e políticas do representado com o réu, cuja soltura ele determinou sem ter jurisdição no caso, explicam a finalidade de sua conduta para satisfazer interesses pessoais e os inexplicáveis atos judiciais que emitiu e os contatos que fez com a autoridade policial para cobrar urgência no cumprimento de suas decisões”.[6]
Contorcionismo retórico
O caso do habeas corpus traduz o engajamento político do Judiciário brasileiro – uma situação que não é nova, ainda que negada pelos seus agentes, que costumam exibir-se como intérpretes desprovidos de motivações estranhas ao conteúdo estreito da lei. Embora existissem mecanismos processuais capazes de anular a decisão de Favreto e devolver o ex-presidente à prisão de Curitiba, os juízes da causa, aflitos, passaram a fabricar decisões oportunistas, destinadas a dar ares de legalidade a uma manobra arbitrária – o descumprimento da liminar. A depender dos tribunais, avisaram, Lula não permanecerá nenhum minuto em liberdade antes que se esgotem os prazos que confirmarão a impossibilidade da sua já improvável candidatura a presidente.
Em situações assim, a operacionalidade da Justiça convive com contorcionismos retóricos. Para desfazer entendimentos não desejáveis, uma certa corrente do burocratismo judicial tem buscado auxílio na teratologia, ciência que estuda as monstruosidades orgânicas.[7] A fórmula é singela: desde que uma sentença contrarie os interesses dominantes em juízo ou fora dele, receberá o selo de “teratológica”. Esse epíteto não precisa, necessariamente, se expressar no processo. Basta que seja pronunciado por juízes ativistas, advogados de renome ou intelectuais televisivos – uma, duas, muitas vezes, em circunstâncias diversas –, até ganhar a familiaridade do público consumidor e desqualificar o comando que se quer destruir.
Quem declara a teratologia de uma sentença? Quem poderia dizer, à margem do sistema recursal disponível às partes, que faltou ao seu prolator competência para atuar, ou que ele lançou afirmações absurdas sobre o fato investigado? Sem levar em conta esses detalhes, a análise “técnica” do despacho de Favreto se deu no campo extrajudicial, por obra de palpiteiros notórios ou desconhecidos, entre os quais estavam os membros do aparato da Justiça que “seguraram”, durante algumas horas – as suficientes para que a garantia concedida fosse revogada –, a libertação determinada no habeas corpus. O cálculo, como tantas vezes se fez nos autos da condenação, foi político, alheio às normas processuais e aos princípios do direito. Um cálculo que levou autoridades pretensamente discretas ao abandono da aparência de neutralidade e expôs as suas orientações ideológicas.
Teratologia e tragédia
Essa prática tem antecedentes. Um deles, ocorrido há não muito tempo, resultou em tragédia: a desocupação do Pinheirinho, área de 1,3 milhão de metros quadrados localizada na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. O terreno, registrado em nome da massa falida de uma empresa pertencente a Naji Nahas, especulador condenado por crimes contra o sistema financeiro, permaneceu abandonado por mais de três décadas. Em 2004, foi ocupado por um grupo de famílias sem-teto, que se organizou ali, formando uma comunidade com características de bairro. Nahas, então, buscou reaver a posse na vara da falência, na capital paulista. Conseguiu a liminar de reintegração que queria, mas o juiz da situação do imóvel, Marcius Geraldo Porto de Oliveira, da 6ª Vara Cível de São José dos Campos, demonstrou, com base na Constituição Federal, que a ordem de despejo, no momento em que foi recebida, era inexequível. Para que se transformasse em realidade, anotou em despacho datado de 21 de outubro de 2004, o poder público deveria, antes, adotar medidas de proteção aos moradores da gleba, de modo a lhes garantir direitos elementares, como segurança, dignidade e deslocamento a outra área onde pudessem instalar moradias adequadas. Como tais condições não existiam, o acampamento se manteve.
A pendência continuou até 2011, quando as pressões para a retomada do terreno se intensificaram. Nesse período, a cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem nenhuma jurisdição sobre a matéria, sinalizou que os moradores do Pinheirinho deveriam ser expulsos. Mas a questão não era simples. A área havia sido urbanizada. Abrigava casas, igrejas, estabelecimentos comerciais e mais de sete mil pessoas. Negociações para a regularização estavam em curso, e a defesa dos ocupantes tentava transferir o julgamento da causa para a Justiça Federal. No dia 22 de janeiro de 2012, dois mil soldados destruíram o Pinheirinho, sob as ordens imediatas de uma autoridade judiciária. De um resumo sobre o acontecimento, extrai-se:
O Poder Judiciário se envolveu diretamente na desocupação do Pinheirinho. As manobras policiais que resultaram na expulsão de milhares de pessoas de uma área urbanizada, com características de bairro popular de um município economicamente importante, foram respaldadas não apenas por uma ordem judicial, mas, muito além disso, pelo engajamento político de autoridades encarregadas de julgar, que se colocaram ao lado dos interesses dos supostos proprietários do terreno. Essa postura contrariou o discurso de neutralidade que costuma acompanhar ações desse tipo, ensaiando uma resposta previsível à pergunta: a serviço de quem funcionam os órgãos da Justiça? (TEIXEIRA F., 2016, p. 28)
Quando a operação militar teve início, estavam em vigor duas ordens judiciais: uma, da Justiça Estadual, autorizava o despejo; outra, da Justiça Federal, o proibia. Para resolver o impasse –um conflito de competência começava a ser processado naqueles dias, e estava sujeito a análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ) –, a assessoria da Presidência do Tribunal de Justiça se autoconcedeu o poder excepcional de deliberar. E o fez administrativamente, com base em suposição jamais demonstrada: os despachos contrários ao despejo seriam “decisões teratológicas”, sem os requisitos mínimos para a produção de efeitos jurídicos. “É teratológico! Teratológico!” – alardeavam em debates e entrevistas os prepostos da administração da corte paulista.[8] E ficou assim.
Com outra roupagem, mas com o mesmo efeito deletério, esse modus operandi – o esmagamento de peças incompatíveis com o resultado previamente delineado pelos agentes de comando do processo –, se aplicou às manobras que impediram o cumprimento do alvará de soltura em favor de Lula. Foi Sérgio Moro quem desencadeou a reação. Foi ele o primeiro a questionar o alcance das atribuições conferidas ao juiz plantonista do TRF-4. Foi ele o ponto de apoio para a inércia da Polícia Federal, em Curitiba, que negou a eficácia da liminar e deixou o tempo correr até que o habeas corpus perdesse sentido prático. Ao seu redor, desembargadores de um tribunal superior agiram como auxiliares de um super-herói togado, numa inusitada subversão hierárquica de competências e prerrogativas.
Não se sabe se Moro interveio subjetivamente, impressionado com o peso da campanha midiática que o elegeu para livrar o País da corrupção, ou se o seu aparecimento naquele domingo nervoso teve motivações políticas mais amplas. Não importa. O procedimento que transformou em pó uma decisão judicial antes que ela fosse atacada por recurso próprio tem a marca da concentração e do abuso de poder. Não é de hoje que o chefe da “república” de Curitiba comete deslizes. Moro se apropriou da ação criminal instaurada contra Lula. Condenou e, mais do que isso, assumiu a pretensão de zelar pelo destino do réu, pelo seu corpo septuagenário e pela execução da pena que lhe foi imposta. Deixou-se representar como inimigo do preso em manifestações de reacionarismo verde-amarelo e acenou positivamente a patrocinadores de convescotes frequentados por personalidades ligadas à banca internacional. Pode ser qualquer coisa, menos um juiz isento.
O Judiciário na ditadura e o ativismo contemporâneo
Num trabalho jornalístico pródigo em detalhes sobre a história do Supremo Tribunal Federal (STF), Felipe Recondo descreve as agruras de juízes sufocados pelo golpe militar de 1964. O livro de sua autoria, Tanques e togas: o STF e a ditatura militar, reúne episódios dramáticos em torno do assunto. O Judiciário vivia momentos de retração. O País estava sob o domínio de um regime de força, e os donos do poder esperavam dos órgãos da Justiça a legitimação do ordenamento jurídico excepcional, posto acima da Constituição vigente. Isso requeria dos ministros do Supremo esforço para manter a dignidade da instituição e, ao mesmo tempo, evitar o sentimento de que as decisões da corte desafiariam os planos do Executivo.
A questão central era como interpretar os atos institucionais. Para não ferir de morte preceitos jurídicos elementares e não agredir o convencimento teórico dos julgadores, estes adotaram o hábito de se reunir informalmente antes das sessões plenárias do STF. A intenção era encontrar respostas politicamente aceitáveis diante das pressões que vinham das Forças Armadas, de um lado, e dos atingidos pelo regime de exceção, de outro.
Nada assegurava que o governo acataria ordens que lhe fossem desfavoráveis. Se isso acontecesse, o Judiciário seria desmoralizado. Recondo (2018, p. 35) alude a um caso tornado célebre, em que “o STF esteve próximo de assistir ao que de mais grave lhe poderia acontecer naquela conjuntura político-institucional: o descumprimento aberto de uma decisão judicial pelo Executivo”. A polêmica envolvia o ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, “deposto em 1º de abril de 1964 […], preso e inicialmente levado pelos militares para Fernando de Noronha, onde permaneceu incomunicável durante meses”, até seguir para um presídio em Recife. Arraes havia sido acusado de tentativa de “mudar a ordem política e social estabelecida na Constituição, mediante ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de caráter internacional”. Mas a sua prisão era irregular. Foi o que os ministros disseram, com bastante cautela, no julgamento do habeas corpus que pedia a soltura do ex-governador:
Seguindo o voto do relator, o Tribunal [STF] contrariou diretamente os militares. Por unanimidade, na sessão do plenário […] de 19 de abril de 1965, os ministros do Supremo concederam a liminar e determinaram que Arraes fosse solto. A maioria do Tribunal concluiu que o ex-governador não podia ser processado pela Justiça Militar. Alguns ministros usaram um argumento que permitia soltar Arraes sem com isso entrar em conflito aberto com os militares. Ponderavam esses ministros que a prisão, temporária, já excedera prazo razoável para que a investigação militar fosse concluída. Assim, concediam o habeas corpus sem discutir se a Justiça Militar era ou não competente para investigar um ex-governador. (RECONDO, 2018, p. 36).
A narrativa prossegue: “O que fizeram os militares para disfarçar o descumprimento da decisão do STF? Soltaram Arraes, como determinou o STF, mas o prenderam novamente em seguida, sob a alegação de que ele estava sendo alvo de investigações em outros dois inquéritos policiais militares” (RECONDO, 2018, p. 37). Com esse artifício, a ditadura proporcionava, como definiram os jornais da época, a “libertação simbólica” do réu, abrindo um confronto grave com o Poder Judiciário, que se sentira desprestigiado. A continuidade da crise, no entanto, não interessava ao governo, que estava empenhado em manter a imagem de estabilidade institucional do País. Após um processo delicado de negociações, trocas de mensagens telegráficas, telefonemas e recados pela imprensa, Arraes finalmente saiu da cadeia.
Os arranjos protagonizados por juízes do STF durante o regime militar foram uma espécie de afirmação do Poder Judiciário, uma tentativa de mostrar que existia vida ali, por mais que os seus representantes não se aventurassem a desafiar o Executivo hipertrofiado. Isso fez com que o conteúdo político muitas vezes se colocasse acima do tecnicismo das decisões que afetavam os interesses da ditadura. Na realidade contemporânea, esse fenômeno – a manipulação do procedimento judicial conforme resultados políticos concebidos previamente – se mantém. A diferença é que, agora, os condutores das investigações de crimes de corrupção praticados por agentes do Estado e empresários nacionais têm mais liberdade de agir. Sem a pressão dos tanques, e orientados por uma visão de mundo conservadora, eles elevaram o caráter punitivo do direito a prioridade, com a eliminação de regras de tutela de garantias individuais e coletivas.
Nessa caminhada, os conflitos atingiram as várias correntes ideológicas abrigadas no interior dos órgãos da Justiça. O caso Lula não é o único a revelar essa disputa, mas é o mais visível, pelas mudanças que provocou no cenário político do País e pela revelação do ativismo que passou a dominar a arena dos debates judiciais. O problema é bem explicado por Veríssimo (2013, p. 55), a partir da análise do modelo ortodoxo que enxerga no juiz uma figura inerte e passiva:
[…] Não é o juiz que escolhe analisar essa e não outra situação, nem é ele quem determina quais são os fatos que melhor traduzem o problema a ser julgado. Tampouco é o juiz quem formula, idealmente, a solução que seria adequada, em tese, ao tal problema. Por todas essas razões, é que, apesar de ter o julgamento, ele não tem a vontade. Ao julgar um caso, o juiz analisa aquela situação de fato que lhe é descrita pela vontade indicativa das partes (vontade essa que lhe é alheia), não podendo conhecer quaisquer outros elementos.
O raciocínio jurídico dominante na Lava Jato inverteu a lógica tradicional do processo. Nos julgamentos centralizados na figura carismática de Lula, a intenção de condenar o réu existiu desde sempre, independentemente do teor das provas obtidas. A peça acusatória, a sentença de Moro ou os acórdãos dos recursos que chegaram ao TRF-4 ou ao STF foram as peças que deslocaram essa vontade para o formalismo da ação. Caracterizou-se o que Veríssimo (2018, p. 59) identifica como “julgamento orientado para um resultado”. Nessa modalidade de ativismo[9], “o ponto de chegada não é uma conclusão natural do percurso, da colheita de provas, da interpretação, mas é algo que parece ser desejado e, eventualmente, tem a finalidade de transformar a realidade, transformar uma situação indesejada”. Não é de surpreender, portanto, que o despacho liminar de Favreto, tido como pouco consistente por alguns intérpretes da lei, tenha causado o rebuliço que causou: ele se pôs em choque com o resultado pretendido pela equipe encarregada do destino político do ex-presidente.
A democracia ameaçada
A operação Lava Jato, iniciada em 2014, se tornou popular à medida que as investigações que realizou levaram à prisão políticos e empresários. Ao desenvolver o tema do combate à corrupção, seus representantes coletivizaram a ideia de “fazer justiça” a qualquer custo. Num ambiente de desilusão com a democracia representativa, juízes, policiais e membros do Ministério Público ganharam notoriedade e personalizaram – deliberadamente ou não – a imagem de salvadores da pátria. Possíveis ilegalidades na condução das ações criminais que proliferaram desde então foram absorvidas pela mídia, relativizadas por juristas simpáticos aos “novos” procedimentos ou ignoradas pela parte da sociedade que deseja menos conversa e mais castigo.
Nesse contexto, o julgamento de Lula se destacou pelo impacto político que o cerca. Não há como negar que as soluções arranjadas para o caso vieram de procedimentos investigativos pouco comuns, aplicados por burocratas que ocuparam o espaço deixado pela desmoralização de governantes, parlamentares e chefes de escalões diversos. Havia um desejo generalizado de imposição de resultados judiciais capazes de vencer a sensação de impunidade e fabricar heróis oportunos. E os “meninos da Lava Jato” estavam disponíveis para cumprir esse papel.
O problema é que reações com esse viés, movidas pela sede de vingança das massas, são perigosas. Primeiro, porque atropelam garantias constitucionais. Depois, porque demandam e facilitam a concentração do poder, um dos motores da violência institucionalizada, como a que se verificou no drama da desocupação do Pinheirinho, ou da barbárie totalizante que caracterizou a ditadura militar. Mais recentemente, as tentativas de censura materializadas em denúncias contra o desembargador do TRF-4 que contrariou o modelo decisório consolidado pela maioria dos seus pares reforçaram essa constatação.
Um dos maiores juristas brasileiros, cujo acervo intelectual tem a marca da luta contra o autoritarismo, ensinou que “não pode haver direito sem democracia: sem democracia há lei, o que é outra coisa” (FAORO, 1986, p. 31). Porque os tempos são mesmo difíceis, é preciso conter os malabarismos e os exageros da Lava Jato, que transformou em “vale tudo” os processos capitaneados pelos seus principais atores. É preciso, enfim, proteger o direito e a democracia, dois elementos complementares e fundamentais para a construção de uma sociedade justa.
Notas
[1] Na noite de sexta-feira, 6 de julho, Paulo Pimenta, Paulo Teixeira e Wadih Damous, deputados federais eleitos pelo PT, ingressaram com o habeas corpus no TRF-4. Algumas horas antes, a seleção brasileira havia sido eliminada da Copa do Mundo pela Bélgica, numa derrota por 2×1, e o País vivia um clima de ressaca. Com a concessão da liminar, no domingo, 8 de julho, os meios de comunicação se alvoroçaram. Em poucos minutos, o currículo do prolator do despacho, Rogério Favreto, que atuava em regime de plantão, se tornou público. Segundo a imprensa, ele havia sido militante político na década de 1990, e prestou serviços a governos petistas a partir de 2003. Por esse motivo, seria, na visão de alguns ‘analistas’, suspeito para atuar no caso.
[2] Os acontecimentos que envolveram a concessão e a revogação da liminar que ordenava a liberdade de Lula se deram na sequência especificada a seguir: i) em 6 de julho, às 19h32, o habeas corpus deu entrada no TRF-4; ii) o desembargador plantonista, Rogério Favreto, recebeu a matéria às 20h07; iii) no dia 8 de julho, às 9h05, a liminar foi concedida; iv) às 12h05, o juiz Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, que estava em férias, interveio no processo, orientando a Polícia Federal a não cumprir o mandado de soltura; v) às 12h44, Favreto determinou, pela segunda vez, a libertação de Lula; vi) às 13h25, o procurador-regional da 4ª Região, José Osmar Pumes, pediu a reconsideração do despacho liminar; vii) às 14h13, o desembargador João Gebran Neto, relator da Lava Jato no TRF-4, revogou a liminar; viii) às 16h04, Favreto emitiu o terceiro despacho de soltura de Lula; e ix) às 17h53, o presidente do TRF-4, Thompson Flores, decidiu manter Lula preso.
[3] O jornalista, no caso, é Cláudio Tognolli, professor da USP. Em 2017, ele ficou conhecido por vazar nas redes sociais exames médicos de Marisa Letícia, esposa de Lula, que faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral. Após ser repreendido por profissionais da imprensa, Tognolli apagou a postagem em que tornava público o número do telefone do desembargador Rogério Favreto, do TRF-4. Sobre o assunto, verificar: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2018/07/jornalista-tognolli-telefone-favreto.html>. Acesso em: 23/7/2018.
[4] Verificar, a respeito do assunto: <http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/10/stj-laurita-vaz-nega-habeas-corpus-a-lula-e-repreende-favreto-leia-decisao-na-integra/>. Acesso em: 23/7/2018.
[5] O crime de prevaricação, atribuído a funcionários públicos, é tipificado pelo Código Penal no artigo 319, que estabelece a conduta: ‘Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal’.
[6] Verificar, a respeito do assunto: <https://exame.abril.com.br/brasil/raquel-dodge-solicita-aposentadoria-compulsoria-de-rogerio-favreto/. Acesso em: 23/7/2018.
[7] De acordo com o Moderno dicionário da língua portuguesa (São Paulo: Cia. Melhoramentos, 1998), a definição de teratologia é a seguinte: ‘s.f. (térato+logo+ia). Estudo das deformações ou monstruosidades orgânicas’.
[8] O juiz Rodrigo Capez, que atuava como auxiliar da Presidência, foi o porta-voz do Tribunal de Justiça de São Paulo para assuntos relacionados à desocupação do Pinheirinho. Nessa condição, ele concedeu entrevistas e escreveu artigos sobre o assunto. Duas matérias merecem destaque: i) CAPEZ, Rodrigo. Pinheirinho: Ideologia e fatos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012. Tendências/Debates, Primeiro Caderno, p. A3; e ii) LUIS NASSIF ON LINE. Rodrigo Capez fala da atuação do TJ no caso Pinheirinho. Jornal GGN. São Paulo, 25 fev. 2012. Disponível em: <http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/ rodrigo- capez-fala-da-atuacao-do-tj-no-caso-pinheirinho>. Acesso em: 14/8/2015.
[9] Além do ativismo orientado para um resultado, Veríssimo (2018, p. 57-59) descreve outras quatro modalidades desse tipo de atuação: i) a do juiz ativista que invalida decisões tomadas por outros Poderes; ii) a do juiz ativista que não adere a precedentes ou a padrões de julgamento; iii) a do juiz ativista que cria direitos que não estão explicitamente contidos no ordenamento jurídico; e iv) a do juiz ativista que interpreta criativamente as normas existentes.
Referências
FAORO, Raymundo. O jurista ‘marginal’. In: LYRA, Doreodó Araújo (Org.). Desordem e processo: estudos sobre o direito em homenagem a Roberto Lyra Filho. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1986. p. 29-37.
RECONDO, Felipe. Tanques e togas: o STF e a ditadura militar. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
TEIXEIRA F., Mário Montanha. A atuação do Poder Judiciário nos conflitos de terra: o caso do Pinheirinho. 247 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/322689>. Acesso em: 23/7/2018.
VERÍSSIMO, Marcos Paulo. Controle de constitucionalidade e ativismo judicial. In: WANG, Daniel Wei Liang (Org.). Constituição e política na democracia: aproximações entre direito e ciência política. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 53-73.